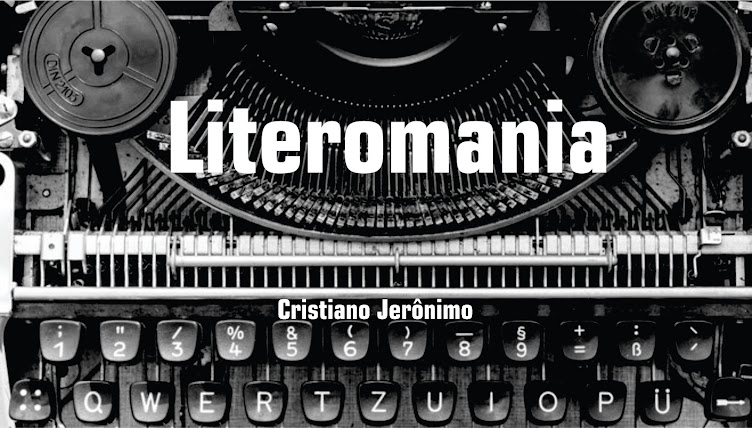Movimento Udigrudi - 1971-1981
No meio do Sertão pernambucano, no Brejo da Madre de Deus, cidadezinha a 180 km do Recife, ergue-se uma monumental construção feita para simular a terra em que Jesus nasceu. Em Nova Jerusalém, todos os anos, é apresentada uma simulação da Paixão de Cristo de dimensões colossais, que chega a envolver 500 atores. Pois bem: foi nesse mesmo local, em 1972, que o estado de Pernambuco viu aflorar a geração mais maluca de sua história.
Assim como no resto do país, a brecha para o surgimento do desbunde foi aberta alguns anos antes pelo tropicalismo – em Pernambuco, capitaneado pelas figuras de Aristides Guimarães, Celso Marconi e Jomard Muniz de Britto. A expressão máxima do tropicalismo recifense foi o LSE, Laboratório de Sons Estranhos. Como o nome já diz, tratava-se de um espetáculo musical anárquico conduzido por Aristides, Geraldo Amaral e Robertinho do Recife – este último, conhecido como “Jimi Hendrix de Pernambuco”, dava um show na guitarra e na cítara. O jornalista José Teles compara a performance do grupo a que o Velvet Underground fazia exatamente na mesma época, em Nova York.
Em 1972, Recife era uma cidade pequena, com hábitos provincianos, marcada por uma profunda desigualdade social. A sociedade de lá era ainda mais conservadora do que a do Rio de Janeiro e a de São Paulo. Drogas? Se um pai mais arretado descobrisse que o filho estava fumando maconha, era capaz de mandá-lo direto para o hospício. Em meio às condições adversas, surgia em Recife uma turma preocupada com a arte e com o espírito, que se reunia para cantar e tocar violão, formando e desformando bandas para se apresentar no bar-símbolo daqueles tempos, a Drugstore Beco do Barato.
Localizado no centro de Recife, o bar era tão moderninho que até o jornal underground Rolling Stone, carioca da gema, o estampou em suas páginas, em agosto de 72:
“Quem for ao Recife não deve deixar de procurar o Beco do Barato, um barzinho muito gostoso, com música ao vivo, que vende discos importados e fitas cassete”. No Beco do Barato não havia preconceito de classe, de sexo ou de raça. Os filhos da aristocracia pernambucana – que quase sempre já tinham desbundado em intercâmbios no exterior – conviviam em harmonia com bancários, desempregados e hippies que se alimentavam de luz e arte.
Um desses frequentadores era Lula Côrtes. Nascido na Base Aérea de Recife, desenhista desde que nasceu, Lula na infância tinha que fugir do avô que, quando bebia, o obrigava a mostrar o dote artístico para os amigos. Por causa do trabalho do pai militar já havia morado no Rio de Janeiro e em Minas, mas voltou à cidade natal ainda adolescente. Por sua aproximação com pilotos americanos, tinha informações privilegiadas sobre os acontecimentos musicais estrangeiros – gostava de Rolling Stones e Bob Dylan, e ficou sabendo de Jimi Hendrix bem antes de seus conterrâneos. Mesmo provindo de família abastada, resolveu largar tudo quando ainda era moleque, virou Beatnik e foi morar na rua. Nessa época, trabalhava como desenhista e conheceu a descolada estudante de arquitetura Kátia Mesel, companheira de desbundes e futura produtora literária, artística e musical da cena pernambucana.
Laílson de Holanda Cavalcanti também pertencia à classe mais abastada de Recife. Adolescente, fez intercâmbio nos EUA, em Arkansas, onde terminou o high school e aperfeiçoou seus dotes de desenhista. Assim como Lula, Laílson também atuava na música – na temporada norte-americana, chegou a montar uma banda cover de Jimi Hendrix e Creedence. De volta ao Recife, se enturmou tão bem entre os descolados que foi convidado pelo pessoal do DCE da Universidade Federal de Pernambuco para ser o coordenador musical de uma empreitada ousada nos anos de chumbo: um festival de música ao ar livre. Em Nova Jerusalém.
Cercaram de cimento janelas, portas e metais
O rio onde nadavam meus peixes azuis
Levaram embora o som e deixaram as naves espaciais
Nos programas e gibis pra me enganar
Mas voei em meu cavalo de fugas
Pra onde quer que fosse o pássaro
Louco em meu coração
(“Vacas Roxas”, da banda Phetus, sem gravação, de 1973)
Os Selvagens em 1968: à esquerda, Ivinho e à direita, Almir de Oliveira
A I Feira Experimental de Música do Nordeste, que aconteceu em onze de novembro de 1972, reuniu a “juventude prafrentex” de Recife. O “Woodstock cabra da peste” não deixou nada a dever para o original californiano: lendas dão conta que a platéia divertia-se tomando ácido dissolvido em baldes de Q-suco. Foi entre aquele “pôr e nascer do sol” que subiu ao palco uma recém-formada banda, ainda sem nome, composta por jovens músicos da periferia do Recife.
* * *
Marco Polo Guimarães nasceu para escrever. Assim como seus companheiros Laílson e Lula Côrtes, embarcou na viagem de sua vida desde cedo. Em 1966, aos 18 anos, lançou seu primeiro livro de poesias. Em 1969, começou no jornalismo no Diário da Noite, em Recife. Depois, de carona, foi ao Rio de Janeiro. Sem conseguir emprego lá, partiu para São Paulo, onde teve mais sorte: conheceu o conterrâneo Fernando Portela, editor de Cidades do Jornal da Tarde, que lhe ofereceu uma vaga no jornal e um lugar para morar. Marco sentia falta do mar e sempre que podia, escapava para passar o final de semana no Rio. Acabou voltando para a capital fluminense, onde vivia de trabalhos freelance para a editora Bloch e curtia umas com os companheiros desbundados Paulo Vilaça e Ezequiel Neves, que havia conhecido na redação do JT. Nessa temporada no sudeste, Marco Polo escreveu e compôs muito. Quando retornou a Recife, no final de 1972, encontrou uma cena musical efervescente, cheia de músicos criativos e talentosos, prontos para despejar energia em suas composições.
Uma banda da época, Os Selvagens, era formada por jovens de classe média baixa – entre eles, o estudante de engenharia magricela Almir de Oliveira, o percussionista Agrício Noya e o talentoso guitarrista Ivson Wanderley, o Ivinho. Anos antes, Almir já havia sido apresentado a Marco Polo por Rafles, amigo que era “tipo um imã, agregava todos ao redor dele”, como lembra o jornalista. Enquanto este estava no Rio e em São Paulo, a turma de Almir se aproximou de Laílson – mas Marco voltou e houve uma debandada em sua direção. “A gente ficou entre os dois. Pela questão de identificação musical, começamos a fazer o
trabalho com o Marco, mas demos um suporte a Lailson”, lembra Almir. A aproximação foi inevitável e logo foi criada uma banda, ainda sem nome, cuja estréia seria na esperada Feira Experimental de Música.
A turma foi à Nova Jerusalém de ônibus, na sexta, dia anterior ao festival, para ajudar nos preparativos. Passaram a noite toda trabalhando e fazendo farra – quando amanheceu, estavam todos cansadíssimos, não haviam dormido. O único que tinha conseguido pegar no sono era Ivinho – que, na manhã de sábado, acordou com um dos olhos vermelho-sangue, por causa de um inoportuno derrame na vista. O show de estréia da recém-formada banda estava marcado para as 3h da madrugada. Almir de Oliveira mal se agüentava de sono e pediu que Laílson, o organizador, mudasse o horário para meia-noite. O pedido foi negado. “Eu sei que, quando deu uma, duas horas da manhã, eu arriei, fui dormir. E aí, quando deu três horas, acordei com Laílson e Ivinho me chamando”, lembra o baixista. A banda subiu ao palco com ele bêbado de sono e Ivinho tocando de costas para a platéia, de óculos escuros, por causa dos olhos sensibilizados.
Apesar do sufoco, foi ali que o grupo ganhou forma e nome: Tamarineira Village. Tamarineira era o nome de um hospício famoso na época em Recife, e o Village (que é pronunciado “Világe”) fazia referência à vila de comerciários da cidade, de onde vinham a maioria dos integrantes. Rafles, Marco Polo, Agrício Noya, Almir de Oliveira, Ivinho e Israel Semente começaram a ensaiar. Um mês depois da estréia em Nova Jerusalém, a banda deu o primeiro passo para o sucesso na capital pernambucana: um show no Beco do Barato, em
17 de dezembro de 72.
No final dessa apresentação, as meninas voaram para cima dos músicos: “Eram todas garotas da zona sul, de famílias burguesas ou classe média-alta, que andavam em carros último tipo e que, até então, não tomavam conhecimento da gente (éramos pobres e só andávamos de ônibus). Ficamos ali, parados, sem querer acreditar, enquanto éramos abraçados, beliscados, e amolegados. Dali em diante, nossa vida sexual tornou-se um paraíso”, lembra Marco Polo no livro Memorial. O som embrionário do Tamarineira Village era uma oportuna mistura de Rolling Stones com baião, Beatles com Jackson do Pandeiro, chiclete com banana. Como em Recife os discos demoravam ainda mais a chegar do que no sudeste brasileiro, os garotos iam ouvir rock nos puteiros. Era lá que os marinheiros recém-chegados da América, repletos de novidades musicais, iam se divertir. Além da energia juvenil do rock’n’roll, a formação musical dos garotos passava, obrigatoriamente, por Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Capiba, e a raiz cabocla do maracatu. Lula Côrtes, inclusive, diz que a raiz da psicodelia nordestina está ali: nos caboclos juremados, que criavam sob influência da jurema, planta alucinógena, e de cachaça com pólvora, o “azougue”.
“A Dama dos cogumelos”, desenho de Laílson
Por estarem envolvidos nessa salada de influências, ninguém queria ser classificado. “Tanto fazia ser samba, como rock, como baião, como valsa. A gente não tinha essa preocupação”, afirma Marco Polo. Almir concorda, dizendo que fusão musical era espontânea: “Deixamos que essa formação musical que a gente tinha se liquidificasse dentro de nós. Quer dizer, aquilo que estava saindo, não era que a gente estava pensando ‘vamos misturar isso com aquilo’, não, já saía misturado. Afinal de contas, o nosso próprio corpo já nasceu de uma mistura”.
* * *
Durante a Feira Experimental de Música, Laílson conheceu – e se encantou – com Lula Côrtes. Como ambos eram artistas plásticos e também se aventuravam na música, tiveram afinidade imediata. Lula havia acabado de voltar de uma temporada no Marrocos, de onde trouxera um tricórdio, uma espécie típica de cítara. Começaram encontros freqüentes na casa de Lula, onde os dois viajavam tocando o novo instrumento e um violão de 12 cordas. Laílson ficava na base com a viola e Lula improvisava por cima com o tricórdio. “Juntamos dois hemisférios planetários, o som do Oriente, o som do Nordeste e o som que tinha influência do blues, cultura africana. Nós teorizamos: ‘você usa uma escala que eu não uso, no entanto encontramos um equilíbrio dentro disso, juntando dois universos diferentes, juntando dois sons e criamos um terceiro’”, define Laílson.
A dupla chegou a gravar alguns improvisos em fita de rolo, no estúdio que Lula tinha em casa. Kátia Mesel, esposa de Lula na época, sugeriu aos dois que fizessem um disco “de verdade”. Procuraram a Rozemblit, gravadora recifense que tinha tido seus tempos áureos com o frevo, mas naqueles anos amargava uma grave crise financeira. Laílson pegou as economias que estava juntando para voltar aos EUA, Lula completou com o que tinha e a dupla alugou o estúdio. As dificuldades técnicas eram enormes: “O disco tem um ‘fake stereo’, na verdade a faixa mono é reproduzida nos dois canais. Se fôssemos fazer um playback, não podíamos ficar muito longe da mesa de som, senão dava delay!”, lembra Laílson. No final, deu certo. Em pouco mais de duas semanas, varando noites seguidas – e deitando e rolando nos equipamentos e no parque gráfico à disposição – a dupla de artistas finalizou o trabalho. Totalmente experimental, a produção musical e artística do disco ficou por conta do trio Lula, Laílson e Kátia.
Satwa foi lançado logo no início de 1973. Inspirado na filosofia hindu, o nome “é o terceiro aspecto da realidade, o intermediário, a harmonia, a interface entre o espírito e a mente, dentro de um conceito brâmane”, explica Laílson. No disco, instrumental, há viagens musicais pré-construídas – como “Blue de um cachorro muito louco”, cujo solo de guitarra (feito por Robertinho do Recife) se estende por quase cinco minutos e mistura-se com o som metálico do tricórdio. Em Satwa há também improvisos feitos na hora, como “I can be satwa”, cuja viola remete às origens nordestinas da dupla. “Fizemos todos os tipos de experimentação, como uma letra em que cada silaba é uma nota”, lembra Laílson.
Capa e contracapa do disco Satwa
O público pernambucano achou aquilo tudo muito estranho. “Aqui em Recife, na época em que a gente fez, a maioria das letras era muito engajada no problema político. Não que nós não fôssemos, mas forçadamente eles viviam com aquela sombra da Bossa Nova, da forma de cantar o protesto bem em cima dos ídolos da época, como Chico Buarque. A gente começou, por causa do psicodelismo, a dar esse recado num outro nível”, define Lula Côrtes. Para Laílson, o disco é “uma contravenção completa dentro do sistema repressivo”. O confronto com o sistema era mais subjetivo – sem letras, o som psicodélico e os títulos das músicas eram as ferramentas para passar a mensagem de contestação. Nomes como “Valsa dos Cogumelos” e o próprio “Blue do cachorro muito louco” representam bem o espírito da dupla. “Todo mundo falava ‘Lula Côrtes e Lailson são doidos’, sabe?”, lembra Lula.
Depois da incursão no estúdio, a dupla seguiu caminhos diferentes. Laílson queria fazer shows e reaver o dinheiro que havia investido na gravação – mas o amigo resolveu se dedicar às artes plásticas. “Foi uma coisa que me deixou surpreso, investi toda minha grana no disco”, diz Laílson. Naquele início de 1973, sem dinheiro e desiludido, Laílson foi convidado para tocar no Beco do Barato. Acabou chamando dois amigos e, dessa vez, nada de folk psicodélico: o negócio era rock medieval.
* * *
Paulo Rafael era um garoto de 17 anos que usava óculos fundo de garrafa e estava conhecendo o pessoal do Beco do Barato. O primeiro da turma que se aproximou dele foi Laílson, artista mais velho que lhe rendia um misto de estranheza e admiração. “O cara passava na frente da minha casa com uma cara de louco, ele e o Robertinho do Recife, que eram os caras que tinham vindo da América, e era meio mito. Tinham cabelão, nem aí, andando na rua meio passeando, meio flutuando”, conta Paulo Rafael, que na época tocava em uma bandinha de colégio “ruim pra caramba”, mas que ao menos tinha equipamentos, coisa rara em Recife. Ele conseguiu levar o companheiro Laílson para o conjunto e, como conta, aos poucos os dois foram tomando a banda para si. “Fomos ficando com os equipamentos e botando os músicos pra fora”, ri Paulo.
Para o show no Beco do Barato, Laílson ainda chamou o colega de conservatório José Vasconcelos de Oliveira, futuro Zé da Flauta, também com 17 anos. Declaradamente influenciados por Jethro Tull, surgiu a idéia: “porra, bicho, vamos fazer rock medieval”, lembra Paulo Rafael. Estava criado o Phetus. O primeiro passo para a construção do tal clima medieval foi a mudança de nomes: Laílson, que tocava craviola de 12 cordas, passou a ser Laylson; Paulo Rafael virou Paulus Raphael, encarregado da viola de dez cordas; e Zé, na flauta doce, tornou-se Jhosé. De rock medieval mesmo, só tinham a intenção. Como não possuiam instrumentos, foram obrigados a criar a banda de rock totalmente acústica. A sonoridade tinha fortes influências progressivas, que se misturavam a ritmos nordestinos, trazidos por Paulo Rafael, originário de Caruaru, e Zé da Flauta, ligado nas bandas de pífano.
Desde o dia da estréia, o Phetus só tocava depois da meia noite. Além das músicas malucas – tinha uma com letra em tupi-guarani -, uma apresentação do grupo era cheia de efeitos especiais. Laílson fazia projeções de slides com fotografias estranhas, preparava efeitos com gelo seco, fazia os figurinos baseados em camponeses medievais. O clima era ainda mais estranho porque toda a carga pesada e gótica contrastava com o som acústico da banda. Hoje, Paulo Rafael diverte-se com a história. “Zé da Flauta com aquela flautinha doce, não tinha o menor impacto. Para tentar chocar, ele colocava a flauta no nariz, ele tem um ventão. Era um folclore danado”.
Enquanto o Phetus fazia sucesso no Beco do Barato, a Rozemblit percebia que alugar os estúdios para aqueles doidões podia ser uma maneira de sair do vermelho. No comecinho de 73, capitaneada por Marconi Notaro, a turma psicodélica nordestina se reunia para gravar um dos maiores registros da cena: Marconi Notaro no Subreino dos Metazoários. Em “Do frevo ao manguebeat”, o jornalista José Teles diz que Marconi já havia tentado ser músico, poeta, escritor, produtor de discos e até criador de porcos, numa granja chamada Sítio Ação. Quando surgiu a idéia de gravar o disco, procurou Lula Côrtes e Kátia Mesel e lançou a idéia, abraçada naquele mesmo instante.
Phetus no Pátio de São Padro, Recife
A Marconi e Lula juntaram-se outros personagens da cena - Robertinho do Recife, Israel Semente, Agrício Noya, Zé da Flauta e um paraibano recém-chegado à cidade, Zé Ramalho. A turma se internou no estúdio da Rozemblit, em dias anárquicos de criação e gravação. A maioria das músicas saiu na hora, de improviso. O disco tem uma salada musical que passeia entre o samba de “Desmantelado”, a sonoridade e as letras lisérgicas de “Antropológica”, o improviso sentimental de “Não tenho imaginação pra mudar de mulher”, faixa só com viola e voz, e “Maracatu”, que levou os tais tambores caboclos para dentro do estúdio.
* * *
Naqueles idos de 1973, o Tamarineira Village era a maior banda de Recife. Shows lotados, fã-clube, mocinhas histéricas, turnês pelo nordeste - mas o sucesso não tirou os músicos do aperto financeiro. Marco Polo, Almir, Ivinho, Israel, Rafles e Agrício eram todos de origem humilde; dentro do Tamarineira sobrava talento, mas faltava profissionalismo para fazer a banda gerar dinheiro. O aperto era tanto que, para tocar fora, os músicos tinham que pegar carona na estrada. No início daquele ano, foram passar uma temporada em Salvador, onde alugaram uma casinha e sobreviveram à base de shows, até que estes ficaram mais escassos. Sem dinheiro e no perrengue, arrancaram as portas da casa e fizeram fogueiras para cozinhar. Depois, largaram o imóvel depenado e se mandaram para Recife.
De volta à terra natal, Marco Polo capitaneou uma mudança estrutural no Tamarineira: era hora de se profissionalizar. Buscando melhorar o quadro técnico da banda, o primeiro passo foi demitir Rafles, que funcionava bem como mentor intelectual e agitador, mas não como músico. Paulo Rafael, que ainda era do Phetus e acompanhava a turma do Tamarineira nas andanças e cantorias pelas ruas de Recife e Olinda, foi então convidado a entrar na banda. A idéia inicial era que tocasse baixo no lugar de Almir, mas o garoto acabou trocando de instrumento por insistência de Ivinho, que sentia falta de uma guitarra-base. Quando o convite foi aceito, Laílson e Zé da Flauta ficaram chateados. E Paulo Rafael, do alto de seus 17 anos, sem saber direito como, se viu dentro da banda mais transada da cidade.
“Eu não fazia muito o perfil deles, eu era muito mais filhinho de mamãe, cheio de frescurinha. E eles já tinham vindo de Salvador, de Sergipe, pedindo dinheiro na rua, os caras já estavam com uma casca grossa. Eu era café com leite”, conta ele. Claro que o garoto tinha que ouvir sarro de todos os outros integrantes da banda, mas mesmo sendo mais novo e bem diferente do resto, sua entrada foi fundamental para a trajetória do grupo dali em diante. “Quando eu entrei, o troço mudou. Como se fosse transformar em uma coisa menos esquisita do que era, menos sofrida. A história para trás tinha sido muito batalhada, muito cheia de dificuldades”, define. A mudança começou pelo nome da banda. Foi uma cigana do interior da Paraíba quem deu a sugestão: dali em diante, eles seriam o Ave Sangria.
Depois de quase dois anos como Tamarineira Village, a banda havia juntado um repertório considerável. Além de ensaiar e dar novas roupagens às músicas antigas, essa era a hora de compor, compor, compor. As mudanças injetaram fôlego criativo em todos os integrantes e seus encontros, antes espaçados e desorganizados, tornaram-se mais freqüentes, tanto em ensaios formais ou em andanças pelo centro de Recife, onde tocavam violão, cantavam e criavam em conjunto. “Em composição a gente interagia muito. Era comum, quando fazíamos uma música, mostrar pros outros. Então a música de um servia de referência para o outro. Quando o Marco mostrava uma música, eu pensava ‘eu tenho que fazer algo desse nível pra frente’. Quer dizer, o que a gente tinha era esse estímulo para que a criação fosse cada vez melhor. Era como se fosse um jogo de basquete em que a bola, o tempo todo, estivesse correndo de mão em mão, tanto em música, como em arranjo”, lembra Almir de Oliveira.
Primeiro as pernas voaram
De borracha, de nada
Ou músculo leve
Salto livre
O suficiente pra planar
E o corpo todo foi atrás
Em cima, embaixo
dos lados, no meio
Centro do mundo
E os violões brilharam sobre a noite
Enquanto as lâmpadas de mercúrio
Iluminaram a praça
Caracóis, pedras e lesmas
Pernas roçam de leve o chão
E os olhos abertos
E o sorriso
De quem se liga no mar
(“Momento na Praça”, do disco Ave Sangria, de 1974).
Mas não há como negar a influência do psicodelismo nas criações do Ave Sangria, mesmo que não ligadas diretamente ao LSD. “Quando você abre alguns portais da mente para absorver e para expressar as informações que recebe, você passa a dizer coisas de uma forma que nem sempre é aquela que as pessoas estão acostumadas”, define Almir de Oliveira. Marco Polo, o principal letrista, considera-se influenciado pela linguagem descontínua e pelo surrealismo. Para ele, “Geórgia, a Carniceira”, “Corpo em Chamas” e “Momento na Praça” “traduzem a questão do psicodelismo no sentido de não ter um sentido óbvio. São viagens, são coisas para além da realidade”.
A banda, cada vez mais afinada, acompanhava o ritmo lisérgico das criações. “Geórgia, a Carniceira”, tem guitarras distorcidas, um batuque violento e um ritmo frenético, que acompanha a letra de Marco Polo em desespero:
Geórgia, a carniceira dos pântanos frios
Das noites do Deus satã
Jogando boliche com as cabeças das moças mortas de cio
No levantar das manhãs de abril
(“Geórgia, a carniceira”, do disco Ave Sangria, de 1974)
“É tocada de uma maneira nevrálgica, cheia de nervuras. Muito estranha. Acho que ela é uma música que sintetiza a banda”, define o vocalista. “Corpo em chamas” é bem rock´n roll, com cada guitarra indo para um lado, um baixo marcante e palmas; muito dançante, a pegada contrasta com a letra dramática de Marco Polo, que remete a um final de relacionamento: “‘Corpo em chamas’ é psicodélica na música, que é descontínua, cheia de mudanças de andamento, refletindo a fragmentação do discurso poético psicodélico”, sintetiza o autor.
Quando eu botar fogo na roupa você vai se arrepender do que me fez,
Você vai ver meu corpo em chamas pelas ruas, oh yeah,
E o povo todo horrorizado
Iluminado pelo meu fulgor mortal
Eu vou dançar
Girando o corpo incendiado
Até cair no chão
O grito agudo da sirene
Dos bombeiros
Alertando a multidão
Alguém falando que era um louco
No céu negro, a lua cheia a brilhar
Segure a mão de uma criança
A mão gelada
E a mãe gritando: “Não e não!”
E eu tão feliz
Girando colorido
Sob as chamas do luar (...)
A presença selvagem
De um clarão vermelho
Rodopiando pelo chão
Esse sou eu
Dorido, dolorido
Colorido e sem razão
Ou não...
(“Corpo em chamas”, do disco Ave Sangria, de 1974).
Bem diferente de “Corpo em Chamas” e “Geórgia, a Carniceira”, “Seu Valdir” é leve, malandra, e – talvez até por sua simplicidade – polêmica. A letra é uma declaração de amor a um tal de “Seu Valdir”. Na voz de Marco Polo, era recebida com escândalo na conservadora Recife. Originalmente, o cantor havia feito a composição no Rio de Janeiro para ser cantada com uma pegada cafona por uma mulher, Marília Pêra, na peça A Vida Escrachada de Baby Stomponato, de Bráulio Pedroso. A música acabou não sendo aproveitada no teatro, mas foi muito bem usada pelo Ave Sangria, que a transformou em um samba malandro com guitarras.
* * *Só a sonoridade e as letras do repertório do grupo já bastariam para chocar a conservadora sociedade nordestina, mas os cabeludos chegaram ao auge nos inúmeros shows que fizeram ao longo de 1973 e 1974. Enquanto o rock´n roll malandro corria solto no palco, ensaiadíssimo e repleto de improvisos e novos arranjos, os músicos dançavam, passavam batom... e se beijavam. “A gente sempre dava beijo na boca um do outro, e isso provocava reações contraríssimas”, ri o vocalista. Até Paulo Rafael, o café-com-leite, entrava na onda. “Eu ia junto. Se eu não fosse, pô, tava expulso da banda!”, lembra.
A platéia, provavelmente mais louca do que os próprios artistas, ia ao delírio. “Rapaz, o público curtia muito, gostava muito, pulava, dançava, sabia a letra”, lembra Almir. “A gente criou um mito na cidade, era uma banda, que se a gente dissesse ‘a gente vai tocar um sonzinho ali no bar’, enchia de gente”, diz Paulo Rafael. O Ave Sangria tinha o dom de reunir, sob o mesmo teto, as patricinhas de Boa Viagem e os malandros mais pobres do Recife. E mulheres, muitas mulheres. “Muita menininha, classe A, que nunca seria pro nosso bico, porque a gente sempre foi de classe média pro chão, e a gente crau, crau, crau, crau, crau”, brinca Marco Polo.
No Concerto Marginal, festival que parou Recife em 29 de setembro de 1973, Almir lembra que dois marginais – “realmente marginais” – se aproximaram e deram os parabéns para a banda após a apresentação. “A gente se surpreendeu de ver que eram duas figuras assim. E, realmente, eles não fizeram nada com ninguém, foram assistir o show”, conta o baixista.
Junto com esses “marginais”, assistiam ao espetáculo o tropicalista Celso Marconi e toda a intelectualidade de Recife.
Naquele ano, o Ave Sangria tocou em tudo quanto era festival, em todo o nordeste: com Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Zé Ramalho, Novos Baianos, em Natal, Aracaju, Caruaru. Mas mesmo com o sucesso, a falta de grana era uma constante. Primeiro, eles não tinham grande parte do equipamento: Almir não tinha contrabaixo, Marco Polo não tinha microfone, Israel não tinha bateria. Ivinho tinha a guitarra, mas não o amplificador. A sorte deles é que um cara chamado Maristone, produtor musical da cena de Recife, era muito gente fina. Ele conhecia todo mundo, havia produzido bandas de baile e vivia de consertar e alugar equipamentos musicais. Quando surgiu o Tamarineira, era ele quem emprestava tudo. “Ele era nossa fada madrinha”, define Almir de Oliveira.
O produtor dava uma força danada não só para o pessoal do Ave Sangria, mas para toda a insurgente cena de Pernambuco. “Ele fazia todo o trabalho de palco pra gente, montava tudo. Ia lá, passava o som, tudo. E fazia isso com um amor do caramba, como se a gente fosse super estrela”, lembra Lula Côrtes. “Uma vez, o Maristone ia emprestar o equipamento para a gente. A caminho do show, furou o pneu da Kombi dele. Só que o macaco da Kombi, quando chegava no ponto de trocar o pneu, começou a ceder. A gente tinha que segurar a Kombi para ele trocar o pneu. Segurar a Kombi para não arriar, para trocar o pneu, para levar pro show”, recorda Almir, rindo do perrengue.
A produção dos shows do Ave Sangria era toda baseada no faça-você-mesmo. Eles pediam dinheiro emprestado, saíam nas ruas pregando os cartazes e distribuíam os panfletos. Paulo Rafael, por ser o café-com-leite, era o responsável pela parte burocrática. Era ele quem tinha que levar os cartazes para aprovação na censura. “Os caras morriam de medo de ir, porque achavam que já estavam fichados”, lembra. Alugar o teatro e assinar os pagamentos também eram tarefas do novato: “Como eu era menor, se desse uma merda e a gente não pagasse, não ia acontecer nada”.
Mas não faltaram sufocos para o garoto. Na primeira vez que Paulo Rafael se apresentou com o Ave Sangria fora de Recife, foi obrigado a aprender a se virar do jeito dos mais velhos. “Aparentemente tava tudo organizado, tinha passagem de ônibus, tinha um hotel”, lembra. Fizeram o show – com Zé Ramalho e Marconi Notaro – e ficaram muito doidos. Não conseguiam dormir. No dia seguinte, quando Paulo se deu conta, viu que só ele tinha sobrado na cidade. “Todo mundo debandou”, conta. “Eu era o menor. Tinha 17, 18 anos. E os caras... já tinham mil anos de estrada, foram pedindo carona”. A sorte do caçula foi conhecer uma “hippinha” que foi com a sua cara: “Eu disse pô, tô indo para Recife. A gente foi pedir dinheiro na rua, vendendo pulseirinha. Aí quando eu cheguei, voltei puto, que banda da porra. Aí os caras disseram ‘pô, bicho, na hora do desespero é cada um por si’”.
Falta de pagamento, mesmo, Marco Polo garante que não houve. Mas a banda não conseguia ganhar dinheiro. Todo mundo continuava pobre – Israel Semente Proibida morava em um pardieiro no centro da cidade, sem grana para nada. “Eu levava ele em casa para comer, se não ele ia morrer de fome”, lembra Paulo Rafael, o único que ainda morava com os pais. Eles iam e voltavam dos ensaios a pé, carregando amplificadores nas costas. Raras eram as vezes que tomavam um ônibus. As pressões sobre a banda aumentavam – da família, dos amigos e deles mesmos. Era a hora de fazer o negócio finalmente dar certo.
* * *
No início da década de 70, o Quinteto Violado colocou Pernambuco no mapa musical brasileiro. Na mesma época - entre o final de 1973 e o início de 74 - a MPB estremeceu quando surgiram, como relâmpagos hippies-roqueiros, os Novos Baianos e os Secos e Molhados. As gravadoras descobriram que os jovens desbundados também podiam vender e gerar dinheiro. A fim de descobrirem a nova sensação musical brasileira, a Continental e a RCA mandaram olheiros para Recife e deram de cara com o furacão Ave Sangria. A Continental acabou levando a melhor e contratou os rapazes para gravarem um disco, no Rio de Janeiro.
Já fechada no sexteto Marco Polo, Almir, Ivinho, Paulo Rafael, Israel e Agrício, a banda ensaiou exaustivamente entre janeiro e abril de 1974. Depois de quase dois anos fazendo shows, tinham quase cem músicas prontas – todas na cabeça, porque ninguém tinha gravador. Só existia um problema: eles nunca haviam entrado em um estúdio. Ainda em Recife, antes de embarcar, Almir pediu a um produtor da gravadora um maestro e pelo menos um mês para a gravação. Mas chegando no estúdio Havaí, no Rio de Janeiro, a realidade era outra: não havia instrumentos, só bateria. Maestro? Nem em sonho. E eles só teriam uma semana para gravar e finalizar as músicas. O baixista tentou argumentar, pedindo para que a hospedagem e as passagens fossem convertidas em horas de estúdio, mas nada feito.
Para piorar, o produtor designado pela Continental para acompanhar a gravação era Marcio “Vip” Antonucci, da dupla de iê-iê-iê Os Vips. Não que ele fosse um produtor ruim, mas sua formação Jovem Guarda definitivamente não tinha muito a ver com os malucos de Recife. O conteúdo do disco já estava praticamente decidido, antes mesmo de entrarem no estúdio – gravariam as canções mais queridas do público nos shows. Mas Marcio – “que vivia em um mundo dos sonhos”, como Paulo Rafael define – torceu o nariz para os sons estranhos e as quebradas de ritmo das músicas. Quando ouviu “Momento na praça”, o produtor tentou argumentar com Almir:
– Rapaz, pô, grava outra coisa, essa música é muito esquisita!
Mas o repertório foi mesmo a própria banda quem escolheu e, felizmente, “Momento na praça” entrou. Naquela correria, ninguém podia errar: “Eu gravava a primeira e Marcio Vip Antonucci dizia ‘morreu, venha escutar a merda que tu fizeste’, aí eu dizia ‘porra, do caralho, tá bom’”, conta o vocalista. Em uma das faixas ficou conservado um baixo errado de Almir de Oliveira. Somadas as dificuldades financeiras e técnicas ao estilo conservador de Marcio Vip, muitas maluquices das músicas do Ave Sangria não foram registradas na gravação.
Paulo Rafael acha que o disco não retratou a alma do grupo. “Nem nós, nem o produtor, conseguimos expressar o que éramos ao vivo. No estúdio ficou um negócio frio, meio duro, esquisito”. Mas Lula Côrtes, que viu uma apresentação dos garotos antes de irem para o Rio de Janeiro, avalia que o som do Ave Sangria “deu uma amadurecida” depois da gravação.
Disco finalizado, era hora de começar a divulgação. Laílson foi designado para desenhar a capa: fez uma “ave-mulher pousando numa caatinga psicodélica onde a luz da lua colocava tons de prata”, já no tamanho da arte-final, em guache e tinta prateada. Mas, no final, a gravadora Continental não quis lhe pagar os direitos pela ilustração e chamou um artista
Capa e contracapa do disco Ave Sangria
para recriá-la, sem nem devolver os originais para Laílson. “Colocaram na contracapa a frase ‘Layout Laílson de Holanda Cavalcanti’ e ponto final. Muita cara de pau, né não?”, conta o cartunista. O resultado final acabou ficando “um papagaio drag queen”, como brincam os ex-integrantes da banda. Para fazer a divulgação do LP, o Ave Sangria escolheu uma foto que chocou a sociedade: pegaram uma garota menor de idade – segundo Almir, da classe alta pernambucana – e a colocaram nua, deitada de costas, no meio dos marmanjos cabeludos. Até hoje, a identidade da menina é mantida em segredo.
* * *
Depois da gravação, a banda voltou à Recife. Assim como os outros artistas da cidade, viviam na casa de Lula Côrtes, onde havia um grande gramado e vários cômodos malucos. “Todos tocamos lá. O quintal dele era o Jardim do Éden, onde conversávamos sobre tudo e fumávamos muita maconha”, lembra Zé da Flauta, um dos assíduos freqüentadores. “Era uma ligação de jovens de uma época que não estavam satisfeitos com a vida existindo”, define Marco Polo.
Além da maconha e do eventual LSD, a psicodelia nordestina na figura do Ave Sangria, Lula Côrtes e companhia era fruto do chá de cogumelo, lisérgico e gratuito. Apesar de todo o sistema repressivo, era muito fácil conseguir qualquer droga. O Ave Sangria chegou a receber, pelo correio, um charuto de maconha. “A gente era muito louco. A disposição para pular de abismo era “Bora? Bora”. Vai todo mundo. Ninguém tinha medo de correr risco”, lembra Paulo Rafael.
“Hei! man
Voce precisa correr mais riscos do que eu
Hei! man
Pobre de quem não percebeu
Hei! man
Voce precisa correr tanto risco quanto eu
Hei! man
Pobre de quem não se perdeu”
(“Hey man”, do disco Ave Sangria, de 1974).
O disco Ave Sangria foi lançado em julho de 1974. Vinte dias depois, entrou na lista dos mais vendidos. O hit era “Seu Valdir”, que entre 19 e 26 de agosto ficou na 11ª posição na “Super Parada Global”, da Rádio Globo. O pai de Almir, que morava no Rio, ligou para o filho para contar que a música estava tocando muito por lá. Os músicos chegaram a receber uma carta de um garoto de Manaus, que virou fã depois de ouvir “Seu Valdir” no rádio. As vendas do LP também iam muito bem. Segundo estimativa da banda – a Continental não lhes passou o número oficial – chegaram a ser vendidas de 15 a 20 mil cópias. O “Big ben” Waldir Serrão, figura folclórica no rock baiano, radialista e apresentador de TV, disse a Almir que o álbum estava vendendo muito por lá.
“Seu Valdir, o senhor
Magoou meu coração
Fazer isso comigo, Seu Valdir
Isso não se faz, não
Eu trago dentro do peito
Um coração apaixonado
Batendo pelo senhor
O senhor tem que dar um jeito
Se não eu vou cometer um suicídio
Nos dentes de um ofídio vou morrer
Estou falando isso
Pois sei que o senhor
Está gamadão em mim
Eu quero ser o seu brinquedo favorito
Seu apito, sua camisa de cetim
Mas o senhor precisa ser mais decidido
E demonstrar que corresponde ao meu amor
Pode crer
Se não eu vou chorar muito, Seu Valdir
Pensando que vou lhe perder
Seu Valdir, meu amor”
(“Seu Valdir”, do disco Ave Sangria, de 1974)
Mas as críticas não os abateram muito e Marco Polo até incitava a polêmica. Certo dia, chegou para um dos integrantes da Banda de Pau e Corda, que tocava música nordestina tradicional, e disse:
– Vamos fazer o seguinte, eu escrevo um artigo esculhambando com vocês e vocês escrevem um artigo esculhambando com a gente, a gente cria a maior polêmica.
O rapaz negou. “Ficaram apavorados. Mas era isso. A gente era assim... Era o lixo”, define Marco. Havia um apresentador de TV que começou a pegar no pé do vocalista por conta de “Seu Valdir”. A música tocava todos os dias e o homem bradava na telinha:
– Isso é uma vergonha, isso é um insulto, é um atentado moral a sociedade pernambucana! A gente precisa de uma atitude em relação a isso!
* * *
O lançamento do disco do Ave Sangria concentrou as atenções da repressão em cima daqueles malucos desbundados. Antes daquilo eles já eram submetidos à censura, quando Paulo Rafael levava o material para aprovação, em encontros sempre muito tensos. Houve uma canção do grupo que quase lhes rendeu uma prisão, “Sunday”, em um dia que todos foram levados à delegacia. “Era uma música de cunho psicodélico, cheia de imagens, de coisas assim, eles cismaram que ali tinha alguma mensagem subversiva”, lembra Almir. O baixista negou e o policial retrucou:
– Mas o povo vai achar que tem alguma coisa subversiva e pode fazer alguma coisa, promover alguma coisa contrária ao regime.
E Almir:
– Rapaz, olha, vocês que são os censores não estão enxergando isso, imagine o povo, que só sabe mesmo é passar fome.
O policial, furioso, olhou para Almir e disse:
– Olhe. Se repetir, fica.
E passaram a tarde em uma salinha na delegacia.
Para o artista Lula Côrtes, o mais grave era que os censores eram garotos do interior que se alistavam e não tinham o menor embasamento cultural para classificar nada. “Você ia preso por causa de palavras como desbunde, isso é palavra que existe no dicionário, mas acho que ele relacionou com bunda ou com alguma coisa pornográfica”, lembra. Marco Polo chegou a se aproximar de uma censora, que não entendia as tiradas do letrista: “Era uma senhora até assim simpática, gente fina, ficou minha amiga e tudo. E ela não percebia que eu estava curtindo com a cara dela de tão imbecil que ela era”.
Uma vez, os integrantes do Ave Sangria foram todos presos, acusados de estarem com drogas. Naquele dia, porém, não tinham nada – mesmo assim, só conseguiram sair da delegacia de madrugada. Uma noite, durante um show no elegante Teatro Santa Isabel, Marco Polo pediu à platéia “alguém tem um cigarro aí?”. Lula Côrtes, sentado na beira do palco, atendeu ao pedido. O vocalista tragou com gosto, e a platéia foi abaixo, pensando que era maconha. Marco tranqüilizou: “é palha”. No dia seguinte, foi acordado pela Polícia Federal em sua casa. O policial:
– Marco Polo, vá lá contar que você estava incitando a juventude a fumar maconha.
– Como é que é, bicho?
Marco foi à delegacia e tentou se explicar:
– Não, é o seguinte, estava Lula Côrtes lá, eu pedi um cigarro, ele me deu um cigarro de palha.
Tudo bem. Já saindo, Marco desafiou:
– Mas eu já fumei maconha.
– Epa, espera aí, como é que é?
– Fumei maconha em São Paulo, quando era jornalista do Jornal da Tarde. Um major da Polícia Militar levou maconha pra gente conhecer o cheiro –, caçoou. E foi embora.
A patrulha ideológica em Recife era tão forte que Almir de Oliveira ia armado à faculdade de engenharia, onde estudavam muitos militares que ficavam caçoando do hippie cabeludo. Um dia, juntou-se um grupo: “hoje é dia de cortar o cabelo e dar um banho no hippie!”. Almir tirou o “canhão”, como chama, da bolsa: “Os militares disseram ‘não, não, a gente está brincando’, eu disse ‘mas eu não estou, não’”. Almir acabou largando a faculdade naquele período.
“Lá fora é esse sol aberto
Lá fora é essa árvore
E o silêncio costurado
Na boca de um guarda
E o silêncio costurado
Na boca de um guarda”
(“Lá fora”, do disco Ave Sangria, de 1974)
Lula Côrtes, tomando uma cerveja com os policiais que o prenderam
E Lula:
– Arranja uma coisa para eu ler, pode ser Pato Donald, Recruta Zero, qualquer coisa!
E o menino:
– Tu sabe porque que está aqui?
– Não.
– É porque tu leu demais.
Naquele período, o músico pensou que seria morto, convencido pela tortura psicológica dos policiais. Até que foi jogado com os outros prisioneiros, todos encapuzados, no camburão. Rodaram por horas no calor. Sem saber o que estava acontecendo direito e sem enxergar, Lula lembra que o carro ia parando e os presos iam sendo colocados para fora, um a um, às porradas: “Batia no cara, o cara gritava, eles atiravam, depois diziam ‘vamos embora’”. E os que iam sobrando no camburão ficavam apavorados, chorando, pedindo clemência. Chegou a vez de Lula: deram-lhe uma porrada na testa e o largaram, encapuzado e desmaiado, na frente de sua casa. “Eu acordei de madrugada com o povo em volta de mim falando, ‘o que é isso?’, ‘deve ser comunista’”, lembra o artista, que ficou estirado no chão, sem enxergar, até que um dos presentes sugeriu que lhe tirassem o saco da cabeça. “Esse foi o dia mais torturoso, o dia mais comprido da minha vida. Você fica descompensado depois”.
Eu sempre andei sozinho
A mão esquerda vazia
A mão direita fechada
Sem medo por garantia
De encontrar quem me ama
na hora que me odeia
(“Punhal de Prata”, Alceu Valença, do disco Molhado de Suor, de 1974)
“Eu acho que Marco Polo levou uma porrada. Eu levei, pelo menos. Todo mundo levou”, diz Paulo Rafael. A banda continuou a fazer shows no mesmo esquema punk de antes, pregando cartazes, fazendo a divulgação, pendurando faixas na rua. Mas, agora, já não tinham o mesmo gás. “O disco ia ser a tábua de salvação. Quando aconteceu este desastre, a gente foi caindo na real”, define o guitarrista. Para tentar ganhar algum troco, arriscaram até fazer publicidade, como anos antes Os Mutantes e o Módulo 1000 tinham feito. “Tentamos arrumar um cara de agência de publicidade pra ver se ele comprava a idéia de uma banda conceito, para vender produto”, conta Paulo. Mas não deu certo.
Não deixes a vela apagar nem o mastro cair
Nem a corda prender
Só deixes o vento que sopra seus cabelos espelhos dos meus
Te soprar e soprar em mim
Pra depois deslizar em ti
(“Dois navegantes”, do disco Ave Sangria, de 1974)
Naquele final de 1974, surgiu um anúncio do Festival Abertura, organizado pela Rede Globo. O Ave Sangria tentou inscrever uma canção, mas nenhum dos músicos sabia escrever partitura nem tinha dinheiro para contratar um maestro, então desistiram. Em dezembro daquele ano, a banda preparou o seu derradeiro show: Perfumes Y Baratchos, no Teatro Santa Isabel, em Recife. Laílson foi convidado para fazer o cartaz, desta vez, sem intervenções: uma águia-mulher pousando, agressiva, e a frase “Prepare-se que seu coração vai sangrar”, tudo em vermelho. Lula Côrtes e Kátia Mesel foram os responsáveis pelo cenário e o resultado foi espetacular. Era uma mistura de “castelo medieval com macumba”, como conta Paulo Rafael. O guitarrista Ivinho, que era espírita, por pouco não se recusou a tocar no meio das velas. A apresentação entupiu o espaço projetado para mil e duzentas pessoas, onde se aglomeraram mais de duas mil e quinhentas. Muita gente, mesmo com convite, ficou de fora. O grupo incluiu no repertório sucessos do disco e caprichou em novas roupagens para as músicas. Marco Polo atingiu seu auge como cantor. Foi o espetáculo derradeiro – depois daquilo, o próprio Teatro Santa Isabel fechou suas portas para shows de rock.
Naquele momento, Recife estava desolada. Almir de Oliveira diz que até a Zona da cidade fechou. Os rapazes do Ave Sangria – e também os outros da turma – estavam sem trabalho, sem perspectivas, sem motivação. Eis que pinta Alceu Valença, precisando de músicos para o acompanharam em São Paulo, no Festival Abertura. Paulo Rafael já havia visto Alceu na televisão, em uma propaganda do disco Molhado de Suor, e o encontrara um dia na porta do colégio, onde trocaram uma idéia rápida – “você toca, eu também, que legal, vamos tocar um dia”, e ficou por aquilo mesmo.
Ivinho, Agrício Noya e Israel Semente foram convidados pelo músico para o Festival. Além do quarteto, participaram também Zé Ramalho, Zé da Flauta – que ganhou o “da Flauta” neste show, para não ser confundido com Ramalho – e o percussionista Wilsinho. A banda recém-formada se preparava na casa de Lula Côrtes e foi num desses encontros que pintou o convite para Paulo Rafael também ir, no lugar de Robertinho do Recife. Ensaiadíssimo, o grupo apresentou no Teatro Municipal de São Paulo uma leitura explosiva de “Vou danado pra Catende”, composição de Alceu do álbum Molhado de Suor. “Foi um impacto, foi uma porrada, porque era a soma de todas as forças, de Lula Côrtes, da viagem do Ave Sangria, do Phetus. Toda aquela pressão que tinha sido guardada um tempão juntou com a pressão do Alceu, que era muito forte também. Bicho, era uma coisa, uma porrada, quando tocou o público veio abaixo, era um negócio de doido!”, recorda Paulo Rafael.
Ai
Telminha
Veja a enrascada
Que fui me meter
Por aqui
Tudo corre tão depressa
As motocicletas se movimentando
Os dedos da moça
Datilografando
Numa engrenagem
De pernas pro ar
(“Vou danado pra Catende”, Alceu Valença, do disco Molhado de Suor, de 1974)
Um dia, a Rede Globo entrou em contato com os rapazes remanescentes, em Recife, solicitando que fossem ao Rio de Janeiro para gravar como Ave Sangria. O recado havia sido dado pela mãe de Ivinho. Surpreso, Almir de Oliveira juntou a turma e foram, às custas da Rede Globo, ao Rio. Mas, chegando lá, foram avisados que eram para ter ido apenas os acompanhantes de Alceu. A Globo reclamou e pediu que a Continental arcasse com as despesas. A gravadora aceitou, mas como condição, queria que fosse feito um quadro com o Ave Sangria. E foi mesmo: no comecinho de 1975, a banda gravou um clipe para o Fantástico. Entretanto, separaram-se antes que o especial fosse ao ar.
Não se iluda
Minha calma
Não tem nada a ver
Sou bandido
Sou sem alma
E minto
Minha casa é o reino do mal
O meu pai é um animal
Minha mãe há muito que enlouqueceu
Só resta eu
Com a minha faca e a minha nau
Sou pirata
Solitário
Sem mais nada
Sem bandeira
Sem espada
E o mar pra viver
Sangue e vinho derramados no convés
Sons de gaitas, violões e pés
Quando, de repente, surgem dez canhões
Era o Barba Negra
Com a sua turma e suas canções
Não me ame
Eu não quero
Ver você assim
Vá se embora
E eu não choro
Sei cuidar de mim
Eu não tenho todas essas ilusões
E apesar de ter tantos corações
Minha guerra nunca, nunca vai ter fim
Sim, sim, eu sei
Faço o meu sorriso, faço minha lei
(“O pirata”, do disco Ave Sangria, de 1974)
No Rio de Janeiro, morando em uma quitinete, a vida de Paulo Rafael não era uma maravilha total. Os shows não eram muito freqüentes e o músico diz que “comeu o pão que o diabo amassou” por três anos. Quando voltava a Recife para visitar a família no Natal, estava “magro, chupado, com os dentes cheios de tártaro”. Marco Polo voltou ao jornalismo, Almir de Oliveira à engenharia. Israel Semente afundava-se na bebida, Agrício continuou tocando na capital pernambucana e Ivinho firmou-se como um grande guitarrista.
* * *
Lula Côrtes se dividia entre sua casa em Casa Forte, no subúrbio de Recife, e sua fazenda na Lagoa do Carmo, no agreste pernambucano. Eram duzentos e cinqüenta hectares de terra, cortados por uma estrada, em que o artista fez questão de fazer uma “reforma agrária”, assentando as famílias da região: “Eu pegava as famílias, quem tinha filhos homens que podiam trabalhar, quantos filhos tinham e ia registrar”. Uma vez, batizou uma família que não tinha sobrenome de “Cobra” – Severino Cobra, Antônio Cobra. A partir de então, era chamado pelos amigos de “Seu Cobra” e seu inseparável tricódio virou a “tripinha”.
Quando tinha acabado de fazer Satwa, Lula conheceu Zé da Paraíba, garoto que tinha um vozeirão e era talentoso na viola. Zé – que depois substituiu “da Paraíba” por Ramalho – tocava em bandas de iê-iê-iê em João Pessoa e Campina Grande e se mudou para Pernambuco no comecinho do movimento. O dois se aproximaram mesmo durante os ensaios da banda de Alceu para o Festival Abertura, que aconteciam na casa de Lula. Ficaram tão amigos que Zé Ramalho praticamente passou a morar com o companheiro. Em uma das intermináveis conversas, tiveram a idéia de viajar para o sítio arqueológico de Ingá do Bacamarte, no sertão da Paraíba. Lá conheceram a misteriosa Pedra do Ingá, com escritos rupestres creditados a Sumé, um feiticeiro de outro planeta que teria vindo à Terra passar conhecimento para os índios. Os amigos se encantaram e começaram a “fotografar e viajar naquela energia”, como conta Lula.
Um cacique de pele colorida
Conquistou docilmente o firmamento
Num cavalo voou no esquecimento
Dos saberes eternos de um druida
Pela terra cavou sua jazida
Com as tábuas da arca de noé
Como lendas que vêm do abaeté
E como espadas de luz enfeitiçada
Nas paredes da pedra encantada
Os segredos talhados por Sumé
(“Os segredos talhados por Sumé”, Lula Côrtes e Zé Ramalho, do disco Paêbiru, de 1975).
Surgiu então a idéia de fazerem um disco místico, inspirado nas experiências que tiveram naquele local. “Começamos a colher lendas do lugar. Construímos essa mística pegando os sons mais primitivos, mais nativos, e processando eles”, conta Lula Côrtes. O projeto foi batizado de Paêbiru: o Caminho da Montanha do Sol, nome inspirado numa lenda inca. Para começar a trabalhar, a dupla dividiu o disco em quatro elementos: terra, fogo, água e ar. A escolha dos músicos que participariam foi baseada nesse critério. “As pessoas que tinham um espírito mais ar, a gente chamava para aquela parte, os instrumentos que tinham mais a ver, as flautas doces, as harpas. Aí a terra, percussão pesada e o pessoal que era mais terra”, exemplifica Lula.
Para gravar, foram chamados praticamente todos os artistas da cena de Recife. A Rozemblit comprou a idéia e deixou o estúdio – com equipamentos melhores do que na época de Satwa – à disposição da turma, formada por Agrício Noya, Israel Semente Proibida, Robertinho do Recife, Marconi Notaro, Alceu Valença, Zé da Flauta e Laílson, além de Lula e Zé Ramalho. A gravação dividia-se pelos “elementos”: reuniam-se no estúdio os músicos correspondentes a cada tema, tomavam chá de cogumelo – e o que mais pintasse – definiam o conceito e criavam sem limites, numa verdadeira experiência mística. “Às vezes, a gente preparava o estúdio como se fosse uma sala de umbanda para receber entidades”, conta Lula Côrtes. “Era uma viagem cada dia, o estúdio da Rozemblit se enchia de malucos e muita doidera”, lembra Zé da Flauta.
A gravação era ao vivo, em dois canais; foram usados todos os tipos de recursos sonoros, além dos instrumentos tradicionais e do tricórdio de Lula Côrtes. “Agrício Noya tinha um circo de objetos sonoros, que eram a percussão dele. Tinha uma churrasqueira elétrica antiga que, quando rodava, tinha um som de motor do caralho. Eram sons que você ouve e parecem coisas eletrônicas, mas eram completamente artesanais”, lembra Lula. Em uma das músicas, há um som de um regato correndo, gravado por ele em Ingá de Bacamarte: “A gravação era uma viagem muito louca. Ninguém pode imaginar”, afirma.
Em Paêbiru, o resultado final foram onze faixas completamente malucas, marcadas por sons estranhos, barulhos da natureza e o indefectível tricórdio marroquino. O disco é imprevisível – cada música vai para um lado e a combinação de instrumentos e sons deixa claro a qual elemento a música pertence. A seqüência “ar” é leve, marcada por sons da natureza. “Fogo” é mais rock´n roll, com guitarras, baixo, teclados e bateria. Os batuques e instrumentos típicos marcam a seqüência “terra”. A série “água”, além dos efeitos especiais de corredeiras, tem uma pegada de forró, rápida e alegre, com viola.
Não se escuta da terra quem for santo
Não se cobre um só rosto com dois mantos
Nem se cura do mal quem só tem pranto
Nenhum canto é mais triste que o final.
(“Não existe molhado igual ao pranto”, Lula Côrtes e Zé Ramalho, do disco Paêbiru, de 1975)
“O disco é o mais maluco que já se fez no país, porque o pessoal caprichava no cogumelo, na maconha, ácido, e tinha um estúdio à disposição praticamente o dia inteiro, coisa que nenhum músico do Brasil tinha em 1975”, afirma o jornalista José Teles. Paêbiru foi lançado em álbum duplo, coisa rara na época. Lula Côrtes e Zé Ramalho faziam alguns shows, sempre com Zé ao microfone. Para Lula, era legal tocar com Zé ao vivo “por causa da força que ele colocava no negócio”. “Às vezes, você pode estar se sentindo meio inseguro, mas a segurança da pessoa que está fazendo o vocal é tudo, segura a banda toda, a certeza com que você está dizendo o negócio”, define o músico.
Entre 17 e 18 de julho de 1975, logo depois da gravação do disco, uma enchente assolou Recife. Mais de 80% da cidade ficou submersa, deixando 350 mil pessoas desabrigadas; 107 pessoas morreram. A gravadora Rozemblit ficava em um dos bairros mais atingidos, “Afogados”, e suas instalações foram devastadas, junto com todo seu acervo fonográfico. Foram prensados cerca de mil LPs Paêbiru – quase todos destruídos. Sobraram apenas as trezentas cópias que Kátia Mesel havia levado para casa.
* * *
Poucos sobreviveram para contar a história daquela cena pernambucana. Não que tenham todos morrido; parte dos vivos, porém, tem transtornos decorrentes do uso abusivo de drogas, e outra parte não gosta de lembrar ou falar sobre a época. Do Ave Sangria, restaram três “sobreviventes”: Marco Polo, Almir de Oliveira e Paulo Rafael. O vocalista dedicou a vida às letras: jornalismo e poesia. Publicou sete livros de poesias, contos e memórias. Apesar de ter abandonado a música, ainda tem planos de gravar um disco. À beira dos sessenta anos, é pai de uma garotinha de três.
Eu sou da cidade
Mas nasci no mar
Tudo que eu quero é cantar
Por enquanto
(“Por que”, do disco Ave Sangria, de 1974)
– Você já carregou muito peso, não foi, meu filho?
– Foi, minha filha, carreguei amplificador...
Paulo Rafael é o único integrante do Ave Sangria que mora fora da capital pernambucana. Desde a década de 70, permanece no Rio. É produtor musical e também planeja gravar um disco solo. O guitarrista acompanha Alceu Valença até hoje. “Ele criou quase um vício, uma doença mental”, ri. O outro guitarrista do Ave Sangria, Ivinho, ainda toca em Recife, mas, segundo Marco Polo, “tem perturbações mentais provocadas pelo excesso de drogas”. Ivinho gravou muito com a turma de Recife e chegou a tocar no Festival de Montreux em 1978, junto com Gilberto Gil e o conjunto A Cor do Som. Segundo Marco, ele era tão bom que “comia” Robertinho do Recife, músico mais famoso, em um duelo de guitarras. O percussionista Agrício Noya tem problemas com o alcoolismo e hoje vive recluso. Israel Semente, o baterista, suicidou-se na década de 90. “Ele era alcoólatra. Era um cara difícil de entender”, diz Paulo Rafael. “Mas foi bom pra gente manter o punk rock”, brinca.
À direita, o Ave Sangria
As borboletas estão voando
A dança louca das borboletas
As borboletas estão girando
Estão virando sua cabeça
As borboletas estão invadindo
Os apartamentos, cinemas e bares
Esgotos e rios e lagos e mares
Em um rodopio de arrepiar
Derrubam janelas e portas de vidro
Escadas rolantes e das chaminés
Mergulham e giram num véu de fumaça
E é como um arco-iris no centro do céu
(“Dança das borboletas”, Alceu Valença e Zé Ramalho, do disco Espelho Cristalino, de 1978).
Trinta e tantos anos depois do furacão, Marco Polo considera o período do Ave Sangria um “momento muito legal”: “A banda me levou a descobrir o trabalho em conjunto com outras pessoas, me abriu um horizonte que eu não conhecia. Alargou meus espaços como artista e como pessoa”. Paulo Rafael conta que demorou anos para perceber o quanto era especial a maneira de Marco cantar. “Eu levei muito tempo para entender isso. É um jeito de interpretar que é tão peculiar, que até hoje quando eu ouço assim eu digo: ‘cara, como é lindo’. Era uma banda sensacional. Tinha muito talento, muitas idéias, as pessoas tinham muito pique, tem musicas maravilhosas. As letras eram acima da média. A primeira vez que eu ouvi uma música, pensei, ‘isso é uma coisa nova’”, reflete o ex-guitarrista, que nunca mais teve a mesma sensação ao ouvir outro som. Laílson dedicou sua vida às artes plásticas e durante muitos anos foi chargista político. Desde 1977, quando foi premiado no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, publica suas charges diariamente do Diário de Pernambuco. Na década de 90, voltou a tocar com amigos numa banda de blues e rock, a Laílson Blues Band, com a qual hoje se apresenta esporadicamente.
Lula Côrtes continua morando em uma casa que está sempre de portas abertas. Foi casado “um monte de vezes” e é amigo de todas as ex. Tem seis filhos. Viveu seus sessenta e um anos de idade pela música, pelas artes plásticas e também pela literatura. Tocou tricórdio no primeiro trabalho solo de Zé Ramalho, Avohai. Em 1980, gravou Rosa de Sangue, álbum em que assumiu os microfones pela primeira vez, numa mistura de rock, xaxado e sons orientais, com muita guitarra e o inconfundível tricórdio, letras hippies e viagens místicas. O disco nunca chegou às lojas por conta de uma disputa com a Rozemblit, já em processo de falência. Outros três trabalhos de Lula, “O gosto novo da vida”, “A mística do dinheiro” e “O pirata” também nunca foram lançados. Já na década de 90, gravou um disco com a banda Má Companhia, com quem se apresenta esporadicamente até hoje. Lula não usa mais drogas e diz que consegue abrir os portais da mente sem aditivos.Hoje, fica chateado com o estigma de “louco”: “Eu faço três horas de rock´n roll de cara, aí as pessoas pensam que eu estou doido mesmo. Eu faço a loucura que eu quero, eu sou o doido que eu quero agora. Aí, parece que está mais doido ainda”. O artista conta que estava trabalhando no Rio, na mesma época em que Elba Ramalho regravaria “Chão de giz”. Na versão original a guitarra era de Lula, mas Elba não quis que o músico participasse porque era “muito louco”. Robertinho do Recife acabou fazendo a guitarra – e não mudou em nada a frase musical original de Lula.
Dos inimigos
Temos medo ou revolta
De quem nos ama
Temos todo coração
udigrudi | 157
Dos que se perdem
Temos pena ou remorso
Dos que se encontram
Vemos a satisfação
Dos que se negam
Vemos marcas no seu rosto
De quem não ama
Como é triste o seu viver
De quem não vê
Vejo a falta que ele sente
Inutilmente
Nós sentimos o seu sofrer
Do acusado
Já se sente a solidão
De quem não pensa
Vejo gestos tão confusos
De quem não ama
Como é triste o seu viver
De quem não vê
Vejo a falta que ele sente
Inutilmente
Nós sentimos o seu sofrer
(“Dos inimigos”, Lula côrtes, do disco Rosa de Sangue, de 1980).
Com o tempo, a extensa produção musical daquela turma virou cult. Em 1990, o selo Phonodisc relançou o disco do Ave Sangria. Mais para frente, o selo americano Time-lag desenterrou Satwa e, segundo Laílson, existe até uma banda cover deles no estado americano do Maine. Marconi Notaro no Subreino dos Metazoários e Paêbiru disputam o primeiro lugar no posto de vinil mais caro do país. A obra de Lula Côrtes e Zé Ramalho foi relançada em CD por um obscuro selo alemão chamado Shadocks. “Outro dia, um cara me falou ‘seu som está tocando na Anutérpia’, eu falei ‘onde é Antuérpia?’, ‘pô, o paraíso dos diamantes’, eu falei ‘Paêbiru virou um diamante’”, conta Lula.
“O udigrudi acabou de morte natural. A maioria dos músicos foi ficando mais velho, casando, precisaram ganhar a vida. O mais importante do udigrudi daqui é que os músicos não se limitaram a copiar os modelos ingleses e americanos, mas fizeram uma mistura de ritmos nordestinos com guitarras, e acabaram com uma música bem original”, define o jornalista José Teles.
Qualquer dia desses
A gente se encontra
Pra bater um papo calmo
Um papo calmo
E calmamente conversar
Conversar
Bater na porta da alma
Longe da loucura
Longe da loucura
E do barulho
Dessa cidade
(“Balada da Calma”, Lula Côrtes, do disco Rosa de Sangue, de 1980)
– Agora é agora, o tempo não espera por ninguém, não pára.
E Marco:
– Essa está no grupo de frases fantásticas: o tempo não espera por ninguém, o tempo não pára.
– Não espera mesmo, nem retroage. O máximo que a gente pode ter são boas lembranças. Eu fui andando com tudo que veio atrás, está acumulado de tudo aquilo, é impossível você olhar a mesma árvore, porque ela não franze... –, filosofa o artista.
– Você não olha nunca a mesma árvore. É outra árvore – diz Marco.
– É outra?
– Não tem jeito –, responde o jornalista, rindo.
– Nada, nada previsível – define Lula, dando risada.
E Marco Polo, abraçando o velho companheiro, às gargalhadas:
– Eu gosto desse doido, para caramba. Eu amo esse homem.
Lula Côrtes, em 1990
* Psicodelia Brasileira - Um mergulho na geração bendita.
Aline Ridolfi
Ana Paula Canestrelli
Tatiana K. de Melo Dias
- Capítulo Udigrudi - Sub tema: "Sexo, drogas e caboclos juremados".